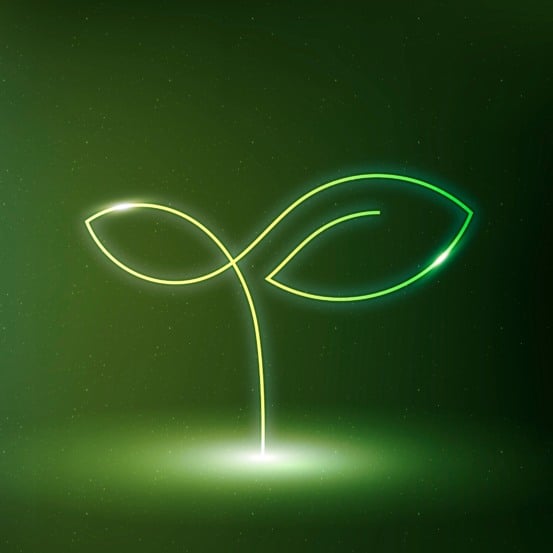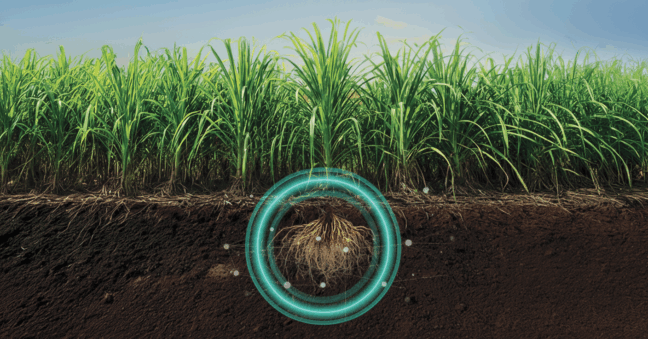Conteúdo da edição 360 do JornalCana (acesse aqui)
Há um fenômeno que vem se espalhando silenciosamente pelas empresas do setor sucroenergético — e, na verdade, em quase todos os segmentos produtivos. Chamo de apagão funcional. Não é a falta de profissionais competentes, mas a ausência de um processo contínuo de formação dentro das organizações. Em algum momento, as empresas pararam de cultivar o hábito de preparar pessoas para o futuro. E, quando a base de formação se perde, a consequência é previsível: faltam candidatos prontos para ocupar funções estratégicas.
Esse apagão não surge do dia para a noite. É resultado de anos de desatenção ao desenvolvimento humano. Quando não há um plano de sucessão estruturado, as empresas se tornam vulneráveis de duas formas: de um lado, ficam suscetíveis a perder seus profissionais mais preparados para concorrentes dispostos a pagar um pouco mais; de outro, são obrigadas a repor esses talentos por valores muito acima do que custaria tê-los formado internamente. O problema é que, sem perceber, as empresas estão terceirizando sua própria sustentabilidade funcional.
Nos meus tempos de trabalho em multinacional americana, lá no final dos anos 80 e começo dos 90, a lógica era outra. Havia uma preocupação genuína em formar profissionais, transmitir conhecimento e preparar sucessores. A empresa entendia que o capital humano era tão estratégico quanto o financeiro. Quando alguém saía, outro já estava pronto para assumir. Havia estrutura, acompanhamento, aprendizado prático e, sobretudo, paciência. Era um processo de lapidação.
Hoje, esse cuidado praticamente desapareceu. Parte disso se explica por uma mudança geracional. A nova geração é mais móvel, mais inquieta e menos disposta a permanecer muito tempo em um mesmo lugar. E isso não é uma crítica — é apenas uma constatação. O problema é que as empresas ainda não se adaptaram a esse novo modelo de relação profissional. Continuam tentando aplicar conceitos de permanência e fidelidade num mercado que funciona por estímulos e desafios constantes.
O Encurtamento do Tempo de Permanência e a Volatilidade do Conhecimento
Recentemente, fiz uma palestra em uma grande trading de commodities. Na sala, havia 35 profissionais. Perguntei há quanto tempo cada um estava na empresa. A pessoa com mais tempo de casa estava lá havia quatro anos. Quatro !!! Isso mostra como o tempo de permanência se encurtou. O conhecimento se torna volátil, e a memória institucional vai embora junto com quem sai. Se não houver um processo contínuo de formação e registro de saber, cada desligamento é uma perda real de capital intelectual.
O resultado é que as empresas se tornam mais dependentes do improviso. Quando alguém sai, a solução vira uma corrida de emergência. Recruta-se fora, gasta-se mais e leva-se tempo para o novo profissional se adaptar. Enquanto isso, o fluxo decisório se fragiliza. O apagão funcional é, portanto, menos sobre falta de talento e mais sobre a ausência de planejamento e continuidade.
A Gestão de Risco como Calcanhar de Aquiles
Mas há outro tipo de risco que também se repete — e esse, por incrível que pareça, é ainda mais previsível: o risco de não ter gestão de risco. Tenho insistido há anos que esse é o calcanhar de Aquiles de muitas usinas. Mais uma vez, vimos o mesmo roteiro se desenrolar. As usinas tiveram, ao longo dos últimos meses, diversas oportunidades de fixar preços de exportação em níveis extremamente remuneradores. E, mais uma vez, muitas optaram por não agir.
A crença de que o mercado “ainda vai subir” segue firme, como uma superstição que atravessa gerações. O problema é que o mercado, diferente da fé, não recompensa a esperança — recompensa a disciplina. Ao deixar de fixar quando o preço é bom, as empresas se expõem a uma volatilidade que corrói margens e compromete resultados. A velha máxima se repete: querem resultados diferentes, mas continuam fazendo as mesmas coisas.
Gestão de risco não é um luxo teórico, nem uma planilha sofisticada para reuniões de conselho. É um instrumento de sobrevivência empresarial. Uma política de risco séria e bem estruturada precisa ser institucionalizada. Ela deve remover o emocional da tomada de decisão — o “eu acho”, o “vamos esperar mais um pouco”, o “deve melhorar”. O subjetivo é um inimigo silencioso. E, no mercado de commodities, ele costuma cobrar juros compostos.
O que se exige, portanto, é um olhar mais técnico e menos intuitivo. O mercado de açúcar já ensinou inúmeras vezes que o preço não tem memória — mas o prejuízo, esse sim, tem lembrança longa. A perenidade das empresas só será garantida quando houver uma política de risco robusta, que assegure ao acionista uma remuneração justa sem depender da sorte ou do improviso.
No fundo, as duas questões — o apagão funcional e a ausência de gestão de risco — têm a mesma raiz: a falta de estruturação. Formar pessoas e gerir riscos são tarefas que exigem método, paciência e convicção. Não são decisões de ocasião, mas estratégias de continuidade.
Empresas que voltarem a investir em gente e implantarem políticas de risco sólidas estarão não apenas protegendo seu presente, mas garantindo seu futuro. As demais seguirão apostando no improviso, esperando que a sorte resolva o que a gestão deveria ter prevenido. E, como se sabe, a sorte, assim como o mercado, não costuma atender chamados de última hora.